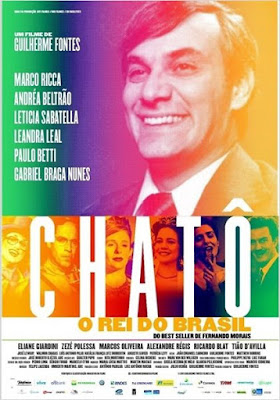“Chico – Artista Brasileiro” – Brasil,
2015
Direção: Miguel Faria Jr
Como se estivéssemos sentados no teatro, vemos as luzes
se acendendo aos poucos no palco, os músicos se colocando em seus lugares, as
cores se acentuando e Chico, de blazer vermelho, entra. Assobia “Sinhá”, letra
dele, música de João Bosco. Um coro de cantores negros acompanha Chico, num
fundo amarelo, ensolarado.
E pronto. O coração entra no ritmo desse documentário
dirigido com talento por Miguel Faria Jr, que conta Chico pelo próprio
Chico.
As montanhas do Rio, vastas na neblina e Chico fala
sobre memória e imaginação, de como nos lembramos de coisas que não
vimos:
“- Eu vi o Zeppelin, no colo de minha avó, sobrevoando a
Baia de Guanabara. Não. Não vi não... Criei essa imagem na minha cabeça. Eu a vi
e ficou minha.”
Ele trabalha com essa matéria prima, tanto nas músicas
quanto nos textos dos livros.
Entra a voz de Miúcha, irmã mais velha, lendo um trecho
do “Irmão Alemão”, último livro de Chico, (“...para mim as paredes eram feitas
de livros...”), que serve como introdução para ele falar do pai, o historiador
Sergio Buarque de Holanda de “Raízes do Brasil”. Um pai atarefado com seus
escritos, que não tinha uma boa relação com o filho, que é criada através dos
livros:
“- Peguei mania de ler em francês por causa do meu
pai.”
Vemos fotos de infância, ele e os irmãos, a temporada na
Itália com a família, onde Chico estudou num colégio americano, um retrato dele
com um bilhete para a avó, a vinda da família para São Paulo na casa da Rua
Buri.
E o Festival da Record em 1966 com “A Banda”. Sucesso. O
público aplaudindo e cantando junto com Chico e o MPB4. A mãe dele, dona Maria
Amélia, sobe ao palco trazida pelo filho de 22 anos:
“- Minha mãe tinha um pouquinho de vergonha de ter filho
no “show business”...”
E foram até agora 500 músicas e a consagração que
sabemos. Durante o documentário vamos ouvir Chico cantando e algumas músicas
sendo interpretadas por cantores escolhidos a dedo.
Carminho canta “Sabiá” com intensidade, como se fosse um
fado e a gente escuta as vaias, porque o público do festival no Maracanã queria
música engajada. Estávamos em plena ditadura e dói o coração ver o rosto magoado
de Chico, ao lado de Tom, autor da música, escutando os gritos de revolta pelo
primeiro lugar deles.
Depois, Tom falando de Chico com carinho e admiração. A
tragédia da censura e “Roda Viva”.
E, de repente, surge o irmão alemão, mencionado por
Manoel Bandeira em 1967, na cobertura de Rubem Braga:
“- Você não sabia? Seu pai teve aquele
filho...”
Chico levou a pergunta para casa mas nada foi
esclarecido. O documentário vai se encarregar de mostrar algo
surpreendente.
É precioso o depoimento de Chico sobre a ex-mulher
Marieta, os anos de auto-exílio na Itália, a chegada da primeira filha, a falta
de dinheiro.
Chico conta as histórias com humor, ri muito também, mas
sabe ser sério e reflexivo quando o momento exige. E é muito doce com os
netos.
E desfilam, frente aos nossos olhos, Maria Bethânia
jovem cantando “Olhos nos Olhos”, Monica Salmaso “Mar e Lua”, Laila Garin com
“Uma Canção Desnaturada” de dar nó na garganta, volta Carminho com Milton
Nascimento e “Sobre Todas as Coisas”, Adriana Calcanhoto e Mart’nália,
brejeiras, num dueto em “Biscate” e Caetano e Chico no violão, cantando
juntos.
Tudo delicioso. Uma ilha de beleza e inteligência nesse
mundo atrapalhado de hoje em dia.
Assistir “Chico – Artista Brasileiro” é um privilégio.
Não percam.